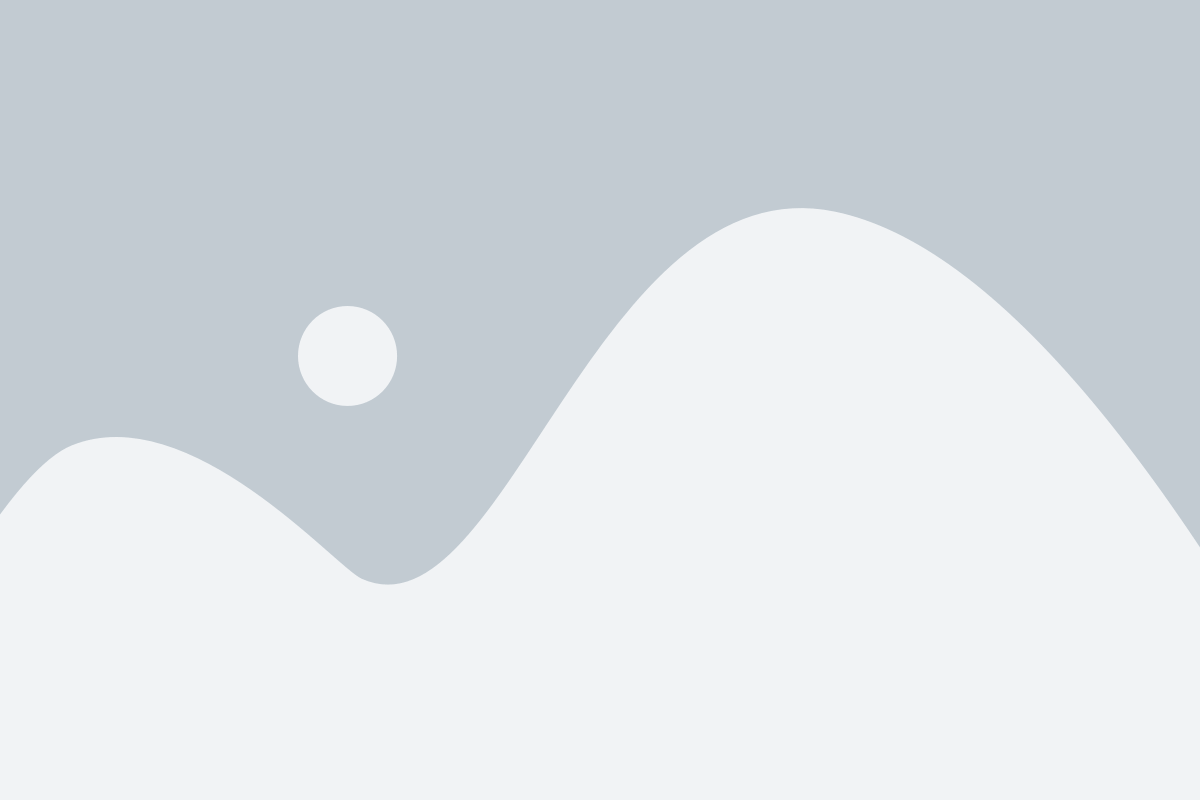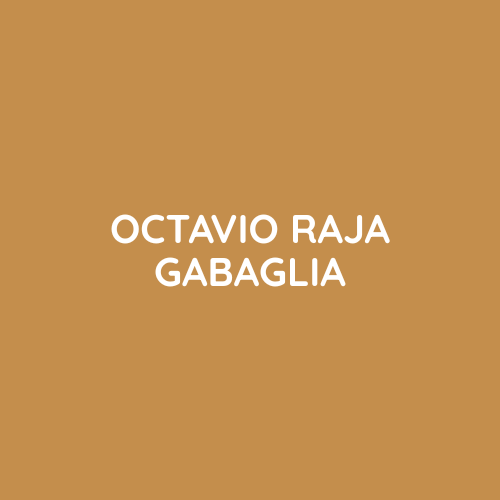Por Professor Paulo Roberto

Tenho o costume de fazer longas caminhadas por Cabo Frio. Passo por inúmeros lugares e presto atenção a muita coisa. Um destes lugares é o que hoje se conhece como “Passagem”, próximo ao Forte São Mateus. Ali existe um largo com uma simpática igrejinha, ladeada por um casario que tem pelo menos a fachada em estilo colonial.
Hoje o lugar é ocupado por uma série de bares e restaurantes frequentados em grande parte, por turistas vindos de São Paulo, Minas Gerais e mesmo alguns estrangeiros. Já estive lá algumas vezes. E o que mais me chama a atenção é que em nenhuma destas vezes encontrei a igreja aberta. Também nunca vi uma única placa informando sobre a igreja. Nunca vi nenhum dos que trabalham nos bares ao lado, informarem nada sobre a construção.

Como quase ninguém sabe nada da igreja, ela fica ali como uma peça cenográfica, a enfeitar uma paisagem que aspira a algo “tradicional”. Ou seja, um verdadeiro simulacro. Mas tudo poderia ser muito diferente, se tivéssemos um pouco de curiosidade sobre a função daquela igreja, daquele lugar e do significado de ambos na história da cidade.
A primeira coisa que me chamou atenção foi o fato daquele lugar, por onde caminhava praticamente todo dia, chamar-se “Passagem”. Já disse aqui que meu interesse pela história das cidades não é novo. Quando comecei a estudar a história da região, me dei conta de que a maneira como a cidade foi construída, ao longo dos séculos XVII e XVIII guardava muitas semelhanças com outras cidades do Império Português, erguidas no Brasil. De maneira geral, as cidades portuguesas não eram projetadas de maneira tão escrupulosa como as espanholas, mas ainda assim possuíam um modelo básico.
Segundo este modelo urbanístico, além das instalações administrativas e religiosas, não havia como manter uma cidade sem que houvesse uma fonte regular de abastecimento de água. Por isso, a construção de um chafariz como a da Fonte do Itajuru, ligada ao núcleo de povoação existente, exigia uma “passagem” de um ponto a outro. Não custa lembrar que no caso do Rio de Janeiro, o famoso chafariz do Mestre Valentim, na Praça XV de Novembro, atendia às mesmas funções, abastecer populações que iam buscar água potável mesmo em canoas. A Baía de Guanabara, tal como o Canal de Cabo Frio eram assim, “passagens” para o abastecimento de água uma das rotinas mais comuns das cidades coloniais. A outra rotina era cortar e rachar lenha.

Sem água e sem lenha, nenhuma cidade poderia sequer pensar em funcionar. Os carregadores de água e de lenha andavam para lá e para cá, como formigas atarefadas. E claro, tanto no Rio de Janeiro, quanto na diminuta Cabo Frio da época, isso era feito por escravos. Cidades como o Rio de Janeiro do século XVII e início do século XIX, eram cidades escravistas,por quê sem a mão de obra escrava, ela simplesmente iria entrar em colapso. Ou seja, o escravo era a infraestrutura básica da cidade, tal como hoje as rodovias e a malha ferroviária constituem esta infraestrutura nas cidades capitalistas.
Apesar de ser muito menor em população, a dependência da escravidão em Cabo Frio não era menor, muito pelo contrário. Só para termos uma ideia, na década de 1870, a Corte do Rio de Janeiro possuía uma população de 17% de escravos, segundo os dados do Censo de 1872. Cabo Frio, pelos dados da mesma fonte possuía uma população escrava correspondente a 30% de todos os seus habitantes. O que isso significava? Em 1870, o Rio de Janeiro, que foi por muitos anos a maior cidade escravista das Américas, já tinha deixado de ser uma cidade escravista para se tornar uma “cidade com escravos”. Onde antes havia o escravo de ganho a fazer toda sorte de serviços para a cidade manter-se viva, havia cada vez mais, a figura do imigrante livre.
Não era o caso, ainda, de Cabo Frio. Aqui, a escravidão ainda era uma realidade muito forte, traduzida na vida cotidiana da cidade. A igrejinha de São Benedito que hoje permanece de portas fechadas era também sede da devoção destes “carregadores de água e cortadores de lenha”. Em uma cidade como esta, assim como em tantas outras do Brasil da época, fazer parte de uma “irmandade de homens pretos”, como assim era chamada na época, as irmandades de escravos era condição fundamental para conseguir comprar a liberdade.
Em quase todas as cidades brasileiras onde há uma igreja de Nossa Senhora do Rosário ou de São Benedito houve ali também a presença de irmandades de homens pretos e com elas, a criação de redes de mútuo socorro destinadas fundamentalmente à assistência ealforria.
Seria muito interessante se todos os eventuais frequentadores do espaço da Passagem de hoje soubessem um pouco das histórias de liberdade que aquela igreja foi testemunha. A porta fechada da igrejinha é uma metáfora bastante elucidativa do tipo de passado que a cidade quer transmitir aos seus moradores e aos eventuais turistas. É como se aquelas portas trancadas representassem algo que no fundo não interessa que se saiba.
Toda vez que eu passo por ali, o que mais me chama atenção não são os frequentadores a conversarem animadamente nas mesas de bar, mas as portas fechadas da igrejinha. Sabe aqueles armários que os nossos pais pedem para que ninguém abra, mas não explicam o por quê eles estarem trancados? Pois é. Quem sabe um dia, as coisas mudem e quando estiver passando por aqueles cantos, a porta esteja finalmente aberta.