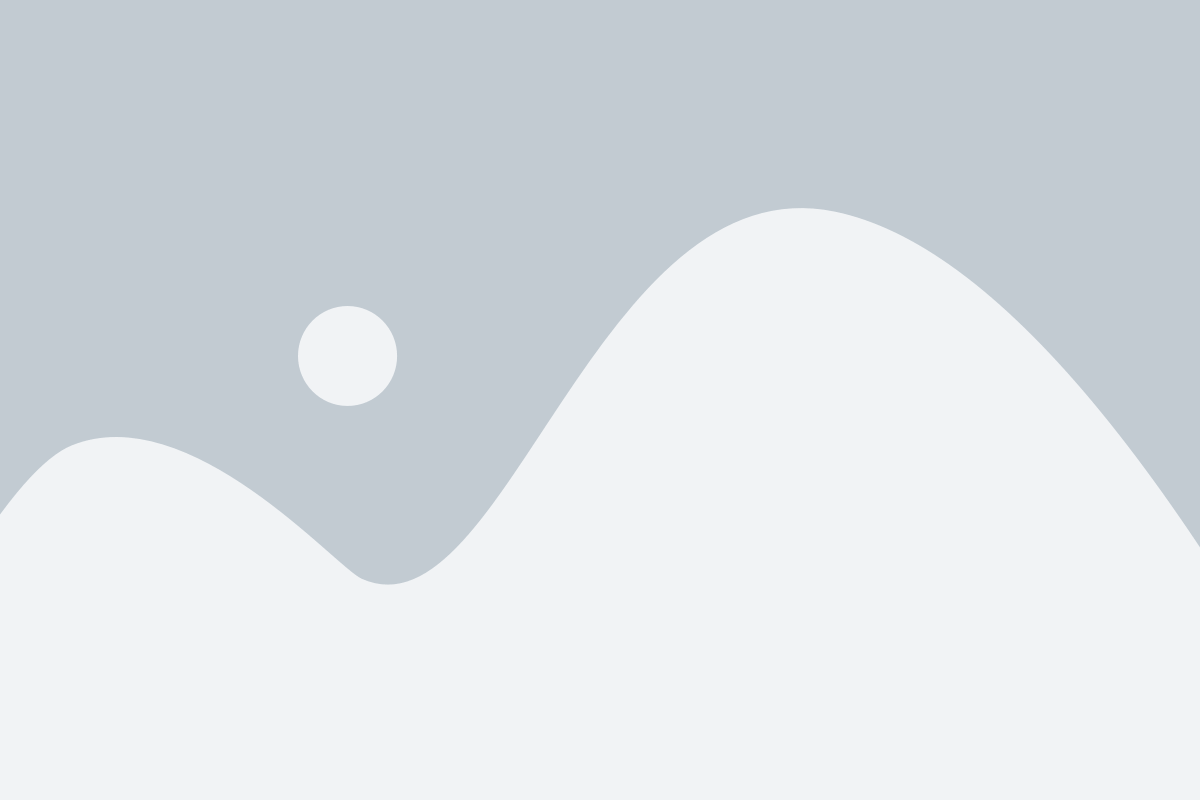A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), promoveu, nesta segunda-feira (25/03), um seminário para debater a violência obstétrica e as mortes maternas no estado. O debate foi realizado em parceria com a Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre Violência Obstétrica e Morte Materna.
Durante o encontro, diversas mulheres relataram casos de violência obstétrica nas clínicas e maternidades públicas do Rio. Presidente da Comissão da Alerj, a deputada Renata Souza (PSol) destacou que atuará de forma conjunta com a comissão da Câmara dos Deputados, representada pela deputada Taliria Petrone (PSol), e com a Câmara dos Vereadores da Cidade do Rio para fiscalizar o atendimento e garantir o cumprimento da legislação.
“Nós já temos diversos instrumentos, como o relatório final da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, que recomenda a instalação de uma ouvidoria no estado destinada a receber denúncias de violência obstétrica e das comissões de óbitos nos hospitais”, exemplificou a parlamentar. “Tratamos hoje de vários temas que já tínhamos levantado nessa CPI e a gente não precisa de ‘retrabalho’. A gente necessita que as leis e as recomendações que já existem sejam respeitadas”, afirmou, citando ainda a tramitação, na Alerj, de projetos como o que pretende criar centros de parto normal com recursos do Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres.
Violência obstétrica em números
Durante o encontro, o coordenador da área de Saúde das Mulheres da Superintendência de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Antônio Rodrigues Braga Neto, reconheceu a existência de casos de violência obstétrica no Rio e destacou a implementação de medidas para redução dos mesmos, como ações de conscientização regulares com as equipes.
Braga também explicou que o Estado do Rio apresentou uma redução nos índices de morte materna em 2023, mas, ainda assim, foram registrados 123 casos nos hospitais públicos, sendo que 75% deles ocorreram na região metropolitana, na capital e na Baixada Fluminense. “As principais causas são hemorragia, hipertensão e infecção”, comentou.
Ele destacou, ainda, que o Rio será o primeiro estado do Brasil a implementar um protocolo de suplementação de cálcio para gestantes, já que a deficiência deste nutriente está entre as causas da hipertensão na gravidez. “As mulheres fluminenses têm um consumo em média de 400 mg por dia de cálcio, quando o recomendado é de 1,5 grama”, afirmou.
A deputada Renata Souza afirmou que vai solicitar à Secretaria de Saúde o acompanhamento semanal dos dados sobre mortes maternas e violência obstétrica no estado.
Relatos de racismo no atendimento
Realização de procedimentos sem anestesia, ofensas, falta de orientação médica e até mesmo negligência dos profissionais de saúde foram alguns dos relatos apresentados pelas mulheres vítimas de violência obstétrica que acompanharam a audiência. Parte delas chegou à Alerj após conhecer a Sala Lilás, espaço destinado ao acolhimento e à orientação para quem já sofreu alguma violência.
“Até então, eu não conhecia os meus direitos, já estava de alguma forma acostumada com este tratamento”, contou Louise, de 43 anos, moradora de Magé e mãe de seis filhos. Seu último parto, no ano passado, foi feito por uma acadêmica de Medicina porque, segundo Louise, o médico responsável se recusou a fazer o procedimento e a tratar a sua dor durante as contrações porque “ele não podia fazer nada, ela já estava acostumada”.
Representando o coletivo Mães de Itaboraí, Ariane Magalhães contou histórias de algumas das vítimas. “Uma jovem de 23 anos teve seu parto bem-sucedido, mas faleceu pouco tempo depois porque uma médica esqueceu de retirar toda a placenta do corpo dela. Eu recebo relatos de mães que já ouviram no hospital que ‘a carne da mulher preta é igual couro de vaca’. É evidente que essa violência é por causa da nossa cor, do nosso gênero, da nossa classe social”, desabafou.
A enfermeira obstétrica Rosana Côrrea, que atua com mulheres em privação de liberdade, afirmou que casos como os relatados remontam às práticas do “pai da ginecologia”, J. Marion Sims, que, no século XIX, realizava procedimentos cirúrgicos em mulheres negras sem anestesia, “pois acreditava que a mulher negra não sentia dor”. “Pouco tempo depois, ele realizou os mesmos procedimentos em pacientes brancas, mas dessa vez com anestesia”, concluiu.
Casos no sistema prisional
“A violência obstétrica se intensifica nas prisões”, é o que afirmou a enfermeira obstétrica durante a audiência. “Eu costumo dizer que tudo que acontece na sociedade em geral se verifica de maneira mais intensa nas prisões, tudo é aumentado exponencialmente”, comentou Côrrea.
Apesar de reconhecer alguns avanços no estado do Rio, que é o único a possuir uma unidade materno-infantil no sistema de privação de liberdade, ela apontou que ainda há casos de violação de direitos. Entre eles, mulheres que são obrigadas a realizar o parto algemadas – o que é proibido por lei desde 2016.
A deputada Renata Souza afirmou que também vai solicitar, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, os dados relativos à violência obstétrica nas unidades da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e do Departamento-Geral de Ações Socioeducativas (Degase).
Acompanhamento na sala de parto
Um dos maiores avanços para humanização do parto no Brasil, segundo as participantes, foi a Lei 11.108/15, que garantiu à mulher o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Fátima Cidade, enfermeira obstétrica que é integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM), teme que esse direito possa estar ameaçado por uma nova legislação aprovada no fim de 2023. A Lei 14.737/23 restringiu, de forma abrangente, o acesso a centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva (UTI) aos acompanhantes que sejam profissionais da área da saúde.
“Todo procedimento de cesariana é um procedimento emergencial. As salas de cesariana voltarão a ser blindadas? Será que essa lei traz para as mulheres, em especial as pretas e pobres, a perda do direito ao acompanhante?”, questionou Cidade.
Em resposta, a defensora pública Flávia Nascimento, do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência de Gênero (Nudem), defendeu que a legislação de 2023 não pode implicar em um retrocesso de direito garantido por outra legislação.
“A gente tem que interpretar este trecho [da restrição do acompanhante] à luz do princípio da vedação ao retrocesso. A lei vai ser aplicada em qualquer outro procedimento, mas não no parto”, afirmou.
Renata Souza afirmou que vai solicitar à comissão da Câmara dos Deputados, presidida pela deputada federal Taliria Petrone, o acompanhamento deste tema em específico, por se tratar de uma legislação federal.