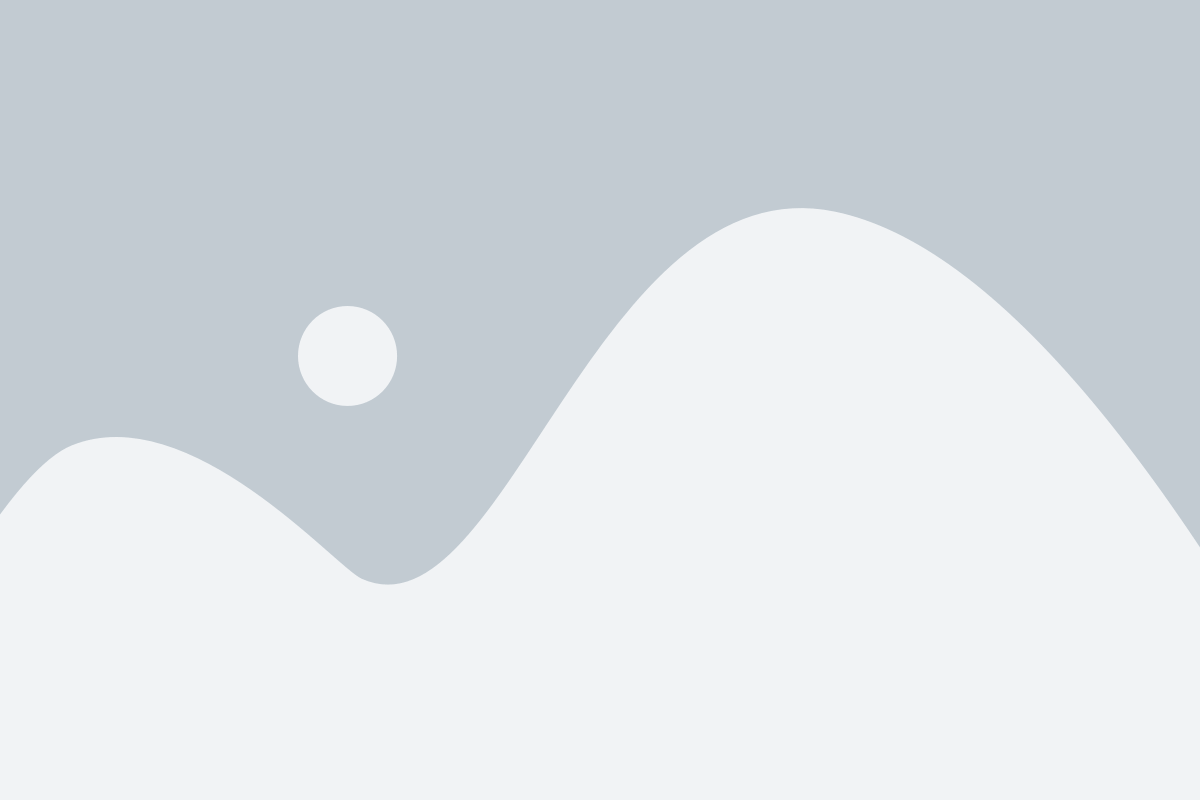OPINIÃO

O menino João Pedro tinha 14 anos quando morreu com um tiro de fuzil na semana passada, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Seu corpo sangrando foi levado pela polícia, de helicóptero, sem ser dada qualquer informação do seu paradeiro aos familiares desesperados. Apenas no dia seguinte seu cadáver seria encontrado no IML do Rio, após os pais procurarem por hospitais e delegacias. Você que está lendo estas linhas, consegue imaginar a dor de uma mãe nessas horas? Difícil, não? Talvez seja justamente nesta dificuldade de sentir o pranto materno diante do corpo negro esvaindo sangue que esteja a explicação para nossa tolerância diante do número de jovens assassinados por agentes do Estado. Há tempos caminhamos em sentido contrário ao que se convencionou chamar de civilização.
Que a sociedade brasileira se construiu apoiada na violência contra os setores menos favorecidos é um dado inegável que não permite relativismos: indígenas que aqui se encontravam e os negros escravizados trazidos do continente africano sentiram na carne e na alma a racionalidade ocidental em busca de ampliação de mercados, lucros, ou do que se queira chamar. A abolição dos escravos se traduziu numa nova opressão da qual o Brasil nem de longe conseguiu se redimir. O velho capitão do mato deu lugar ao policial militar, também negro, que adentra as comunidades atirando a esmo sem pensar que ali poderia estar um dos seus. Fato: ele não se identifica no jovem também armado que o enfrenta, ou pior, que corre segurando a mochila com cadernos, livros e estojo.
E assim como o policial, a maioria da sociedade também não se identifica naquele jovem, nos milhares de João Pedros. Nesse processo de naturalização da violência nas periferias – sim, há uma geografia dos homicídios também impossível de ser relativizada – é retirada não apenas a vida deste jovens, mas também sua humanidade. Ele é o “outro”, como foram o indígena e o negro escravizado do passado. Afinal, de que forma os colonizadores cristãos poderiam permitir o extermínio de povos inteiros, mutilações e estupros, se não fosse apelando para a narrativa de que tais indivíduos não eram humanos?
Muitos dos defensores da força usada em excesso pelos policiais se utilizam do argumento de que os traficantes também matam e que os ativistas de direitos humanos nada falam. Esquecem-se que um não age em conformidade com a lei – não à toa é definido como criminoso – e que o policial, ao menos em tese, deveria agir. Na casa onde estava o menino João Pedro havia cerca de 70 perfurações de bala. Isso mesmo que você leu: 70. Outras crianças também estavam na residência. Detalhe: era uma operação conduzida pelas Polícias Civil e Federal, de caráter menos repressivo que a Militar, por conta de suas atribuições investigativas.
As taxas de homicídio registraram uma queda em todo o país no ano passado, mas as mortes por ação de agentes do Estado bateram recorde: 1.810 pessoas morreram durante operações policiais só no Rio de Janeiro!! Segundo o governador Wilson Witzel, “a política de segurança vem gerando resultados positivos mês a mês”, o que sinaliza para, no mínimo, a manutenção de tais números. E nem o período de isolamento decorrente da pandemia de covid-19 parece apontar uma trégua: seja na Cidade de Deus, na capital, ou nas Malvinas, aqui em Macaé, os agentes da lei seguem sua guerra ao tráfico, matando mais do que morrendo, diante do silêncio da sociedade brasileira. É possível não se sensibilizar diante da foto de um João Pedro sorrindo? A realidade até aqui tem mostrado que sim, é possível… Não percebemos, no entanto, que nesse processo de negarmos a humanidade do “outro” – seja matando ou silenciando – vamos também nos desumanizando pouco a pouco, até chegar o momento em que ninguém se reconhecerá nem mesmo diante do espelho.

Artigo de opinião