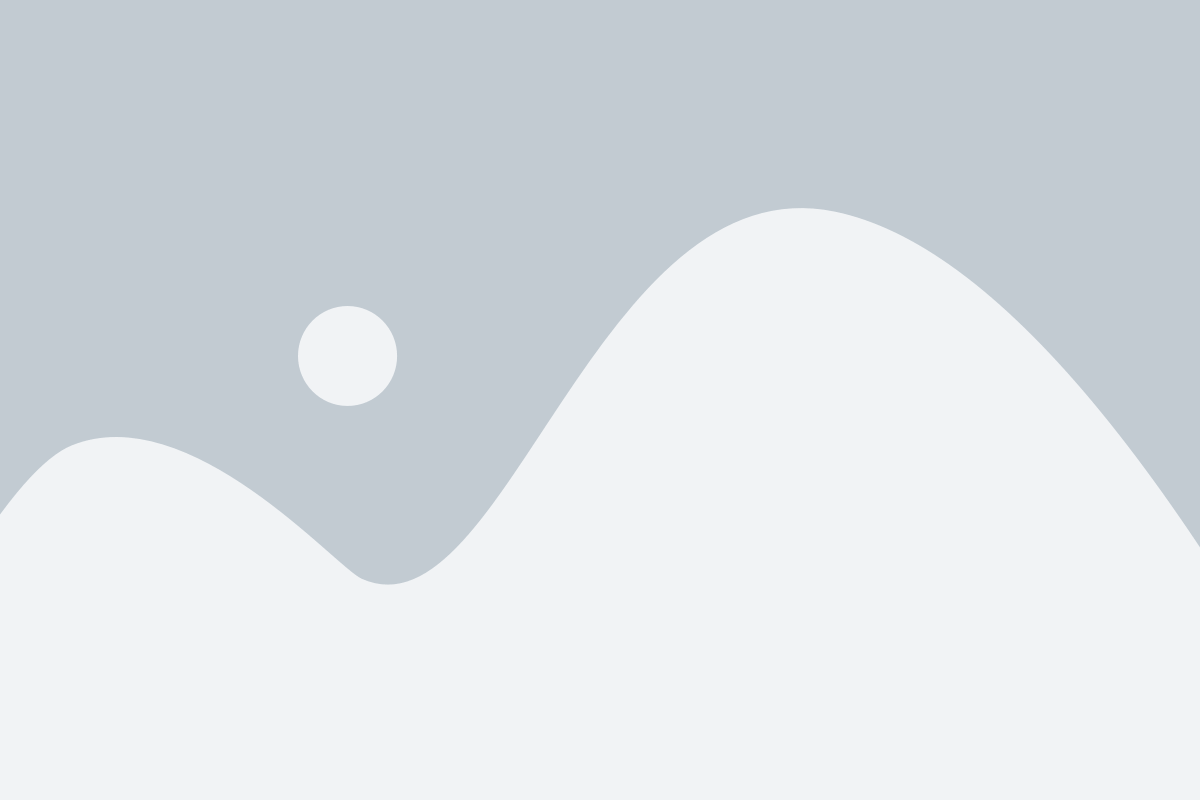Por Mark Zussman
Os melhores filmes que Barbara e eu vemos hoje em dia são iranianos. Eu diria que não faz muito sentido. Mas, na verdade, faz todo o sentido. Os orçamentos de um quarto de um bilhão de dólares dos quais dispõem os americanos (por filme), assim como toda essa tecnologia avançada de animação digital deslumbrante e efeitos especiais arrebatadores, estão a gerar espetáculos cada vez mais afastados de uma vida humana até minimamente reconhecível. Ou seja, mais uma vez, o cinema de pobreza e de meios extremamente limitados vence sobre o cinema dos mais extravagantes recursos do planeta como, me desculpem, meus compatriotas lá, um exército de guerrilheiros esfarrapados às vezes vence forças com as armas as mais avançadas do mundo.
Claro, esses filmes iranianos e alguns outros que vou mencionar não vão agradar a todos os gostos. Para muitas pessoas, o brilho dos filmes hollywoodianos é irresistivelmente sedutor, e, para essas pessoas, os filmes de ação, de super-heróis, e de aventuras espaciais exibidos no cinema do Shopping Parque Lagos em Cabo Frio vão sempre valer mais do que os filmes exibidos no Gran Cine Bardot aqui em Búzios. Mas, quando um estúdio hollywoodiano investe um quarto de um bilhão de dólares (ou, como no caso do novo A Bela e a Fera, $300 milhões), não há muita margem para erros. E, quando não há margem para erros, também não há margem para riscos artísticos ou morais ou de qualquer outro tipo. Os filmes têm que ser estereotipados, têm que ter estrelas testadas e comprovadas para atraírem o maior público possível. Mas a gente não depende nem do Bardot para ver esses filmes iranianos (e outros da mesma categoria) que nos emocionam tanto. Muitos estão disponíveis no YouTube, com legendas em inglês, mas até às vezes com legendas em português ou em espanhol.
Na medida em que eu entendo a situação no Irã, a maioria dos filmes deles são também idiotas – do jeito deles, obviamente. Quem investiga um pouco descobre que o Irã produz mais ou menos cem filmes por ano. Mas, ao contrário do que se imaginaria, nem os filmes iranianos os mais rasteiros são lançados com a intenção de reconciliar a cidadania com essa polícia religiosa que, pelo menos em nossa mitologia ocidental, ronda constantemente pelas ruas à procura de mulheres insuficientemente cobertas por seus xadores. Ao que eu entenda, os filmes mais característicos dessa indústria cinematográfica iraniana são mais como as comédias brasileiras ambientadas em lugares como Barra da Tijuca. Todo mundo é rico ou, no mínimo, confortável. Os conflitos são os conflitos da classe média e média alta urbana. O que mais impele a trama: conluios e traições sexuais. (Para quem gostaria de entender as complexidades e as contradições da situação, recomendo um artigo brilhante no The Guardian, em inglês.
Mas há uma outra vertente lá no Irã, agora de bastante longa data, de filmes simultaneamente realísticos e poéticos – às vezes ambientados em Teerã, a capital, e colocando em foco as classes média e média alta urbanas, mas, ainda mais frequentemente, versando sobre cidadãos comuns ou necessitados e ambientados em bairros carentes da cidade ou, melhor, no muito conservador e atrasado mundo rural. Os diretores cujos nomes são associados com este vertente incluem Abbas Kiarostami, Jafar Panahi, Asghar Farhadi e Mohsen Makhmalbaf, entre outros, e a alta qualidade da obra deles não é um desses grandes segredos esotéricos, não. Faz anos que os grandes iranianos são representados nos festivais internacionais. Faz anos que eles ganham prêmios. Algumas semanas atrás, Asghar Farhadi até ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, na verdade o segundo dele, por O Apartamento (mas, para protestar a política brutalmente anti-imigratória do novo governo americano, não compareceu na premiação).
Mas não é por causa de Farhadi que estou escrevendo sobre o tema mas, antes, porque foi só na semana passada que Barbara e eu descobrimos, no YouTube, dois filmes extraordinários por uma compatriota dele. Os filmes não são novos. A Macã, que encontramos só numa versão com legendas em português, foi feito em 1998. Blackboards, ou Quadros Negros, que encontramos só numa versão com legendas em inglês (mas um inglês muito fácil), foi feito em 2000. Lamentável se as pessoas só pudessem entusiasmar-se por coisas novas em folha. É isso que a máquina publicitária mundial quer que a gente faça, e a imprensa, em geral, colabora. É nada mais, nada menos do que uma tirania. Temos que resistir. Se não, morreremos na praia – cercados por nossos smartphones da última geração, os nossos tênis Nike da última geração, todo tipo de equipamento de esporte da última geração e dezenas de filmes acabados de sair do forno e, em nossos bolsos, onde, antigamente, costumávamos encontrar pelo menos algumas moedas, nada. Temos que parar de jogar todo o nosso passado fora. É idiota.
Mas vamos aos casos. Todos nós sabemos que, nas melhores das circunstâncias, a profissão de professor é dura e não necessariamente gratificante. O professor trabalha por longas horas, é mal compensado financeiramente e, apesar do apoio do estado, que requer que as pessoas até uma determinada idade fiquem na escola, às vezes o professor tem que bancar o apresentador de televisão, abrandar e adocicar a lição e até seduzir o estudante como se o ensino fosse um tipo de entretenimento. O filme Blackboards, ou Quandros Negros – feito por Samira Makhmalbaf, filha de Mohsen Makhmalbaf, quando ela tinha meros 20 anos de idade – começa com uma imagem de um bando de professores itinerantes subindo um caminho de montanha dentro de uma paisagem radicalmente inóspita e incolor nas imediações da fronteira entre Irã e Iraque. O mascate viaja com seus potes, panelas e miudezas. Os professores itinerantes viajam com os seus quadros negros e, neste caso, os quadros negros são equipados com alças para que os professores possam carregá-los nas suas costas. Na imagem, os quadros negros têm a aparência de asas, e os professores itinerantes poderiam ser morcegos ou até mesmo urubus.
Os professores se separam, cada membro do grupo à procura dos seus próprios estudantes, e o filme segue um que, numa trilha numa paisagem montanhosa ainda mais desoladora, encontra uma tropa de crianças – analfabetas ou quase – que carregam muamba nas suas costas do mesmo jeito de que os professores carregam os seus quadros negros. O professor tenta engajar as crianças nas tabuadas de multiplicação (duas vezes três, três vezes três) – em troca de quaisquer restos de comida que as crianças podem dar. As crianças resistem. Elas não têm tempo para frivolidade. O professor persiste, e de vez em quando uma mina terrestre interfere. Eu achei uma obra prima. Me inclino diante da cineasta moça. A Maça, que a Samira fez dois anos antes, quando ainda adolescente, me parece também uma obra prima. E vocês? Vocês gostariam? Eu gostaria de saber.
***
E os americanos, que, desde a crise dos reféns na embaixada americana em Teerã no fim da década de 70, sonham às vezes em lançar algumas bombas no Irã? Os americanos não somente têm recursos nababescos e a tecnologia a mais avançada do mundo. Os americanos são, inclusive, craques em entretenimento. E o entretenimento, claro, é um convite para o escapismo, e ainda mais quando hábil do que quando desastrado. Nada de errado lá. Pelo contrário. Um pouco de escapismo pode ser muito bom – desde que a pessoa sendo entretida saia das suas sessões de passividade na escuridão com células cerebrais o suficiente para encarar a realidade com olho crítico. Está acontecendo, isso? É claro que alguma coisa está destruindo células cerebrais demais lá no meu país de origem. Se não, o pernicioso Trump, ele mesmo, mais do que qualquer outra coisa, um artista de variedades, não teria conquistado a presidência da pobre velha república norte-americana – e, quando eu vejo um filme como La La Land: Cantando Estações, eu não consigo afastar a suspeição de que a indústria de entretenimento está contribuindo mais do que a sua porção obrigatória à imbecilização geral.
Vendo filmes americanos, eu comecei recentemente a fazer um exercício que recomendo para todo mundo. Pergunto a mim mesmo como é que o filme que estou assistindo contribui ao nosso entendimento da implausível ascensão do monstro da Trump Tower. Contribui, na maneira de La La Land, no sentido de que o filme cega as pessoas à realidade do seu país? “Você pode ser o que quiser. Só requer um pouco de vontade e persistência.” Ou nos ajuda a entender o descontentamento das classes mais afetadas, negativamente, pela globalização e, portanto, a vulnerabilidade dessas classes a um demagogo que promete redimir a nação por medidas nada democráticas?
Manchester à Beira-Mar, por exemplo. O filme foi rodado antes das eleições do mês de novembro. Não tem nada de política explícita. Mas, desde os primeiros instantes do filme, não deixei de me perguntar em quem o protagonista, Lee, teria votado se fosse uma pessoa real. Em Hillary? Ou em Trump? Massachusetts, o estado em que o filme é ambientado, é entre os mais Democratas, ou seja, progressistas, da União. Mas Trump tem eleitores e fãs lá também. Trump, apesar de não ter ganho o estado nas eleições gerais, prevaleceu sobre os outros candidatos Republicanos na primária Republicana do estado, e Lee não somente está vivenciando um estreitamento nas suas circunstâncias pessoais, típico dos eleitores de Trump, ele tem um forte sentido de responsabilidade pessoal típico dos Republicanos em geral. Um Lee no mundo real teria podido votar em qualquer um dos dois. Mas qual? Vale a pena se perguntar mesmo se a resposta não seja obvia, e vale a pena observar as forças que podiam induzir um Lee no mundo real para votar em Trump.
Circunstância cada vez mais comum nos filmes americanos dos últimos anos: o protagonista tem uma empresa, ou outro negócio, que por décadas e décadas foi um sucesso e, de repente, está indo ladeira abaixo. A pessoa não mais consegue manter os pagamentos da sua hipoteca em dia. Arrisca perder a sua casa. Episódio cada vez mais previsível: a entrevista com o gestor de empréstimos do banco. O gestor de empréstimos é um cara simpático, às vezes, nas cidadezinhas, um velho amigo da pessoa em apuros, às vezes desde o ensino médio ou primário. O gestor sorri de uma maneira solidária. Ele gostaria de ajudar. Mas ele está de mãos atadas. O banco tem que cuidar dos seus capitais. E a pessoa em apuros não tem nem aval nem outra garantia. O filme A Qualquer Custo toca, do seu jeito, neste tema. Também o filme Família Hollars com o qual cruzamos totalmente por acaso durante Carnaval. Também Um Santo Vizinho com Bill Murray.
Um outro tipo de filme que toca num aspecto importante da realidade americana é o filme, tipo O Lobo de Wall Street, com Leonardo di Caprio, de ganância desenfreada alimentada por cocaína e prostitutas turbinadas.
Mas tem também filmes independentes, de orçamentos minúsculos, que dispensam os chavões e estereótipos de até os melhores filmes de grande e média bilheteria – e, com um olhar frio, revelam aspectos da vida norte-americana que poucos americanos querem enxergar. Vale a pena escavá-los – no YouTube, no Netflix, no iTunes, na vídeolocadora. Recomendo em particular dois filmes brilhantes por Kelly Reichardt, River of Grass (1994) e Wendy and Lucy (2008); qualquer coisa por Todd Solondz; por Whit Stillman, Metropolitan (1990), Barcelona (1994), e O Fim da Era Discoteca (1998); e, por Stephen Gurewitz, Marvin Seth and Stanley (2012). (Correto, a maioria desses filmes marginais nunca foi lançada no Brasil, e não têm legendas em português, mas, para quem entende inglês, vale a pena.) Eu sei que vocês, meus amigos brasileiros, ainda reverenciam Woody Allen. Mas ele não está fazendo o mesmo filme pela enésima vez?
—-
Para quem não percebeu Mark é americano, ele escreveu outros textos, longos como este, que você vai gostar. Confira no link