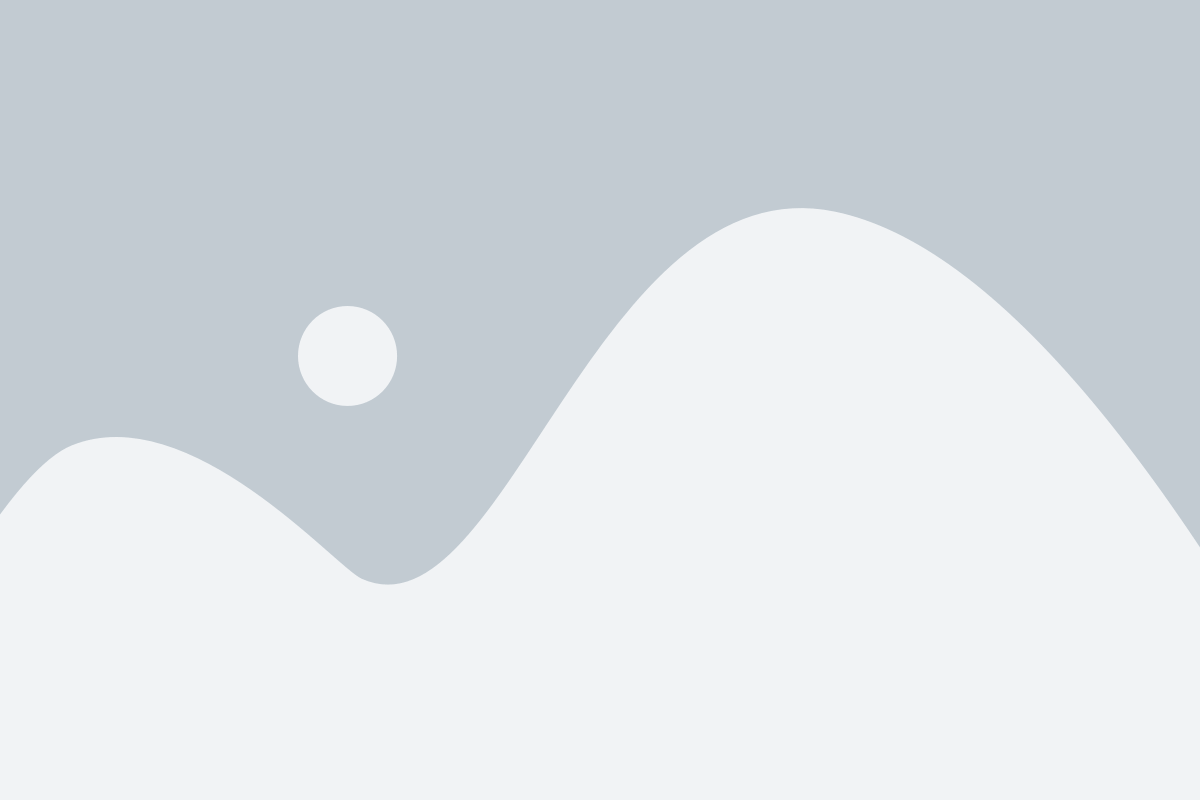Por Mark Zussman
Quando eu era criança (nos EUA, nas décadas de 40 e 50, Século XX), nós, as crianças, bebíamos leite ou suco em nossos jantares. Os sucos eram tipicamente de maçã ou uva e saíam de garrafas, da marca Mott’s no caso da maçã, da marca Welch’s no caso da uva. Em retrospectiva, ambas essas opções me parecem nojentas. Hoje, se eu tivesse que tomar leite com o meu macarrão de cada dia, eu engasgaria. Quanto aos sucos, eles, hoje, seriam, para mim, doces demais – e nunca (graças, eu acho, principalmente aos meus pais) adquiri o hábito de beber refrigerantes.

Os adultos americanos, nessa época, tinham o hábito, cruz credo, de tomar café em seus jantares. Não me lembro como eles preparavam, mas era o começo da época em que tudo era de conveniência lá e eu imagino que era café instantâneo. Uma ou duas colheradas de grânulos na xícara e depois água fervente. O produto desses dois ingredientes ficou, em pouco tempo, morno e, logo em seguida, meramente ambiental. Como criança, eu experimentei uma ou duas vezes. Achei amargo. Voltei aos meus sucos e ao leite. Como os adultos aguentavam, eu não sei.
Em retrospectiva, parece-me muito estranho esse hábito de tomar café com o jantar. Nas últimas décadas da sua vida, minha mão bebia só espumante com os seus jantares, mas, na época da minha infância, os adultos às vezes se permitiam um coquetel antes do jantar e às vezes um licor depois, mas vinho ou cerveja no ato, só em ocasiões muito especiais. Talvez não quisessem dar um mau exemplo para a criançada e abrir a porta ao alcoolismo. Mas é uma possibilidade também que eles suspeitassem das outras bebidas. O vinho? Coisa dos franceses dissolutos. Cerveja? Coisa de alemães gordos e brincalhões.

Na época em que o café, de repente, ficou, para mim, uma necessidade eu estava na faculdade e eu tomava muitas refeições – café da manhã, almoço, jantar – em coffee shops. Traduzindo, eu diria em cafés, mas o coffee shop, na língua original, é uma instituição tão distintamente norte-americana quanto o café e o bistrô, francesas; o pub, inglesa; e o botequim, brasileira. Francamente, eu abomino os coffee shops americanos. Uma das peculiaridades do coffee shop é que, não importa a hora em que você chega, a garçonete – e é sempre uma garçonete – pergunta “Coffee?”; e, antes de você ter tempo para responder sim ou não, ela coloca uma xícara na sua frente e derrama o líquido escaldante para fora de um vidro Pyrex permanentemente grudado à sua mão, ou assim, pelo menos, sempre parecia, e de uma forma tal que uma boa parte do café para no pires e você tem que enxugar com guardanapos antes de beber.
O coffee shop, na verdade, é baseado no princípio do que é chamado lá “the bottomless coffee cup” ou a xícara de café sem fundo. Você beberica duas ou três vezes e a garçonete está de volta perguntando, “Can I hotten it for you?” Ou “Can I top you off?” Eu hesito a tentar traduzir essas expressões. “Top off” deve ser algo como rematar ou coroar. Quanto a “hotten,” hot é quente, como vocês sabem, mas “hotten” não é aquecer. Nada contra um bom neologismo, eu gosto de neologismos, mas seria difícil para mim, mesmo em inglês, explicitar a degradação humana – o abandono de toda dignidade e auto-estima – implícita nessa palavra ridícula. Não, nós não somos insaciáveis. Nós poderíamos, se necessário, num barco salva-vidas, por exemplo, encarar uma xícara se aproximando do vazio por alguns minutos sem entrarmos num pânico. E nós não morreríamos se, por um breve intervalo, o café acabasse. E, além disso, há a qualidade exagerada e extremamente forçada, às vezes amigável e sorridente, às vezes simplesmente obsequiosa, do atendimento. Mas ela, a garçonete, tem uma vida complicada. Trabalha de pé o dia todo. Carrega bandejas pesadas. Em casa, tem filhos podres e drogados, inúteis no mercado de trabalho, tem uma mãe ou um pai doente e incapaz de trabalhar. Difícil não simpatizar. Ela só está fazendo o que a direção exige.
E, de qualquer forma, as coisas melhoraram nos EUA ao longo dos anos. Pioraram também. Havia duas curvas no mesmo gráfico – uma ascendente, a outra descendente. Mas, na realidade, as coisas melhoraram em tantos respeitos que eu nunca entenderei o entusiasmo dos eleitores do Trump para essa década mítica deles, a década de 50, quando, no imaginário deles, tudo ainda estava ótimo para a classe média branca. Eles querem voltar para esses jantares regados a café tépido? (Na verdade, isto é uma possibilidade. Tem pessoas bem abstêmias lá nos EUA.) No que diz respeito ao café em particular, lado positivo primeiro, o entusiasmo pelo café solúvel diminuiu muito, e as pessoas conscientes e sensatas aprenderam a aproveitar de uma nova cultura cafeteira que valorizava o exoticismo e um sabor encorpado.

Na década de 90, a última em que Barbara e eu moramos em Nova York, as pessoas – ou, mais precisamente, as pessoas que se consideravam sensatas e conscientes – não somente tinham abandonado o café solúvel e instantâneo mas também, o café pré-moído, industrializado (palavra tão negativa agora), do tipo que todos nós compramos ainda nos supermercados aqui em Búzios. Na década de 90, nós, os americanos de uma certa forma sensatas e consciente, comprávamos o nosso café em forma de grãos, e comprávamos a granel, em lugares como o Porto Rico Importing Company, na Bleecker Street em Nova York, com as suas sacas de aniagem transbordantes, em procedência dos quatro (ou mais) cantos do mundo – cafés brasileiros e colombianos, é claro, mas também cafés jamaicanos, cafés quenianos, cafés malauienses, cafés malabarenses, cafés sulawesienses. Havia dezenas, talvez centenas de opções, e havia, para cada saca, um letreiro detalhando a proveniência do café, até inclusive o nome da fazenda onde os grãos eram colhidos e, frequentemente, até a data da colheita, e com uma descrição poética, igual à que se encontra para vinhos nas melhores lojas de vinhos, das características e das qualidades do café.
Qual será esta necessidade que eu tenho de falar mal dos Estados Unidos – ou implicar com eles por indiretos? Eu sou cidadão lá, apesar de eu ter visto permanente agora aqui no Brasil. O país lá é legal. Todo mundo gosta. É raro que, na fila para comprar um alface no Mercado Golden, a gente conversa com um casal, na casa de 50-60, que não tem filha em Miami, e ela, segundo os pais, está feliz da vida. Minha mãe me lembrou uma ou três vezes, antes de morrer, que os EUA tinham sido muito generosos comigo e aquilo era, e é, a verdade. Não nego. Minha mãe me acautelou que eu não tivesse que desencavar o lado ridículo ou sinistro de tudo lá nos EUA a cada cinco segundos. Sem dúvida, é uma doença mental em mim. Coisa pela qual eu deveria consultar um psiquiatra.

Na década de 90, Barbara e eu tínhamos um pequeno moedor de café, coisa que a Barbara tinha comprado anos antes num desses mercados de pulgas em Paris. Agora, em Búzios, serve como decoração (foto ao lado). Mas, lá em Nova York, nós colocávamos uma quantidade de grãos na parte de cima toda manhã, girávamos a manivela, e tirávamos o pó da gaveta. Mas, falando sério, essa prática nossa e de tantas outras pessoas tinha também, sim, um lado absurdo. É por isso que eu pensei nessa necessidade doentia que eu sinto de falar mal dos EUA. Ninguém – absolutamente ninguém – precisava de cem ou, sabe se lá, duzentos ou trezentos variedades de grão e diferenciadas entre si não somente por proveniência mas também por sabor de infusão; estou pensando nos cafés com sainete de cereja, de framboesa, de avelã, e assim por diante.
Não era o tipo de consumismo que mais chama atenção pela sua vulgaridade – isto é, aquilo que está focado na aquisição de mais e mais coisas. É um outro tipo de consumismo – mas também passível a censura. É o consumismo de experiências. Viagens exóticas. Iguarias com ingredientes que só poucas pessoas vão ter a oportunidade de experimentar. As pessoas que praticam este segundo tipo de consumismo – para elas, inocente se não meritório – geralmente desdenham o consumismo focado somente em coisas, mas basicamente é o mesmo animal. E é esse segundo tipo de consumismo, totalmente convencido, de experiências pelo qual os eleitores de Trump, que só queriam carros e televisores mais novos e maiores, odiavam os eleitores da Hillary, que só queriam escalar o Everest com uma corja de Xerpas para carregar as bagagens. Os eleitores de Trump não necessariamente desdenhavam as ambições consumistas dos eleitores da Hillary, mas eles sabiam que os eleitores da Hillary desdenhavam as ambições consumistas deles.
E, além disso, havia, lado da curva descendente lá nos EUA, década de 90, alguns outros pseudo-avanços extremamente desconcertantes. Um deles era a rápida expansão da rede Starbucks. Já em 2002, o ano em que Barbara e eu saímos de Nova York definitivamente, nós tínhamos a impressão de que a Starbucks já tinha estabelecido uma cabeça de ponte em cada quarteirão, e conhecíamos um quarteirão, não longe de onde morávamos, onde havia duas, uma dentro da livraria Barnes & Noble em Astor Place e uma outra frente a faculdade de Cooper Union em Astor Square. Pensávamos ter escapado, mas a Starbucks nos perseguiu. Tem uma agora no Shopping Leblon, uma outra no Botafogo Praia Shopping, uma outra na Rua da Assembleia. Tem várias. Tem muitas. Cuide-se, Búzios. A Starbucks pode chegar aqui também. O nosso solo é fértil. E qual exatamente o meu problema com o Starbucks – que todo mundo gosta?

Nós tínhamos tantas variedades de grão de café lá nos EUA para o paladar cultivado deleitar, tantos sabores só minuciosamente diferenciados entre si. Por que tudo, no fim das contas, tem que ser reduzido a uma marca, e uma marca só? É paradoxal. Mas assim é. O que a Starbucks representa é o triunfo da administração de marca. Padronização total. A corporação acima de tudo. Além disso, a Starbucks é uma dessas corporações moderninhas e atualizadas que, de forma que estão os tempos, vingam pela capacidade que têm de convencer os clientes que são os seus amigos e, não somente isso, também são éticos, só usam papel reciclado, cuidam do ambiente, contribuem uma parte dos lucros para causas boas e nobres e tudo mais. E quase o mais absurdo é que as bebidas servidas numa Starbucks quase não são cafés. Basicamente são milk shakes – são sistemas para entregar doses cavalares de açúcar – com leves traços de café. Não admira, portanto, que o “café” está ficando tão popular, dia e noite, nos EUA. São os adultos que compram, mas quem é alimentada é a criança interna.

E há outras evoluções preocupantes. Aqui no Brasil, no Shopping Leblon, por exemplo, você pode pedir a sua bebida Starbucks numa xícara de porcelana. Mas lá nos EUA, a porcelana é uma coisa do passado; todo mundo bebe em copos de papelão. E em copos de papelão enormes – de até 31 ounces, ou onças, fluidas, que é uma medida de lá. Isto é 881ml. Qual a necessidade de uma quantidade de café em que uma pessoa poderia banhar, ou velejar, ou até naufragar? E as pessoas de lá raramente compram para consumir no local, sentadas. Em geral, elas compram para viagem. E às vezes lá em Nova York se tem a impressão que é proibido sair às ruas sem um celular numa das duas mãos e um copo de papelão de café na outra. E, fora de Nova York, na América onde ninguém sai de casa a pé, parece que todo mundo tem um copo de papelão de café no porta-copo do carro. Eu não diria que não é civilizado, mas é muito estranho. Mas basta! Eu estou ficando cada vez mais confortável escrevendo em português, e o risco é que eu não paro.
*
Eu gostaria de escrever sobre minha experiência do café na Europa. Eu sempre gostei de como os italianos saíam dos seus escritórios três ou quatro ou cinco vezes por dia, desciam – com a urgência que leva outras raças ao banheiro para fazerem xixi – para esse barzinho super bem iluminado, e com uma máquina de pinball num dos cantos, no térreo, pediam um espresso curto, o inalavam num único gole, de pé no balcão, e voltavam às suas mesas de trabalho antes que a sua ausência fosse percebida. Adorei. Mas vamos chegar ao Brasil e a Búzios.

Quando Barbara e eu chegamos a Búzios para ficar, não havia grãos de café em lugar nenhum, portanto comprávamos os cafés pré-moídos que encontrávamos nos supermercados – marcas como Pilão e Café do Ponto e Melitta. Após alguns meses, compramos também uma cafeteira, marca Walita se eu não me abuso, mas, como tantos outros eletrodomésticos de que lemos, todo domingo, na página do consumidor no Globo, quebrou quase assim que plugamos, e voltamos ao método de preparo primitivo na foto ao lado. Fervemos água numa velha panela. Derramamos a água em cima do pó e o café pinga por um filtro. Por pouco provável que pareça, nunca sentíamos a falta desses grãos cheirosos que, até agora mesmo, chegam na Rua Bleecker em Nova York depois das suas viagens árduas de Burundi e de Sumatra. Na verdade, o café aqui é bom. É bom o suficiente. Um pouco menos bom se compramos as versões denominadas “tradicionais”, um pouco mais bom (ou melhor) se compramos as versões denominadas “fortes” e melhor ainda na nova linha da Melitta chamada Regiões do Brasil (das quais há, aparentemente, três – Mogiana, Cerrado, Sul de Minas).
Fora de casa, muitos bares e restaurantes aqui em Búzios sempre serviam um bom espresso de noite. (E, sim, é espresso, não é expresso. Confia no estrangeiro.) Isso nunca foi o problema. O problema – para quem, às vezes, tem que sair cedo – era o café, ou cafezinho, servido no café da manhã. Olha, todo mundo precisa de uma padaria a dois ou três passos de casa. No meu caso, adoro o Beto, o Cássio e, sem exceção, todas as meninas que trabalham no balcão da padaria mais perto da minha casa. Adoro a cavaca do Beto e acho a palha italiana que ele faz a melhor palha italiana do planeta. Sério. Mas, francamente, Beto, o seu cafezinho deixa muito a desejar. Me desculpa, mas deixa muito a desejar. Não é bom.

Mas aqui, assim como em Nova York, tem vários indicadores que, juntos, constituem uma curva descendente. Tem outros indicadores que nos colocam no ascendente. E, nessa segunda categoria, tem dois cafés aqui em Búzios que são ótimos. Golden Bread, no Porto da Barra, veio primeiro. Eles usam grãos Illy e moem na hora e, quem não se sente constrangido de pedir às moças para capricharem, é premiado com um lindo desenho na espuma em cima. Na padaria Rabe na Praça de Geribá, a preparação parece-me um pouco mais artesanal. Nunca perguntei a respeito dos ingredientes que eles usam. Mas o resultado lá também é excelente. Estamos satisfeitos. E gratos. O segredo, queridos amigos em Brasília e na carceragem em Curitiba e em Bangu? Não sejam ávidos. Mantenham-na simples!