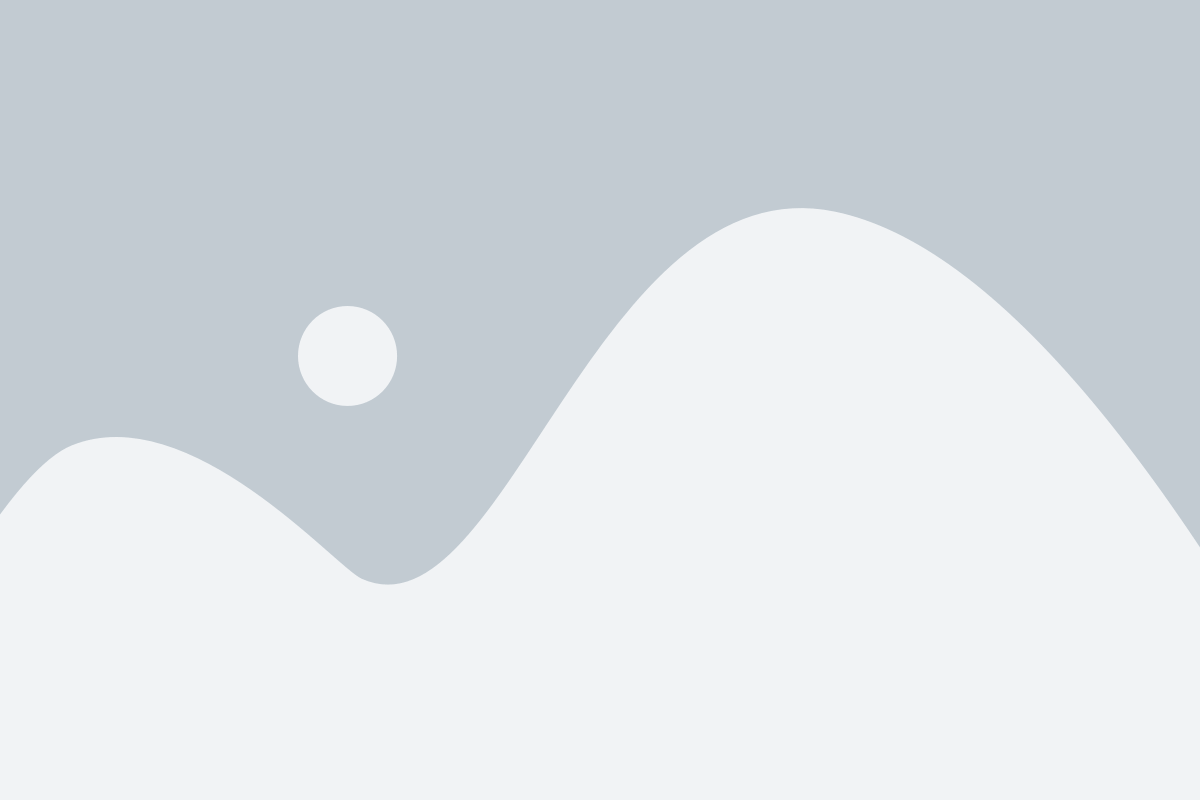Quando foi fundada, lá nos idos do distante século XVI por Mem de Sá, o Rio de janeiro não era mais do que uma fortificação militar amontoada sobre um morro, o Morro do Castelo. Era da tradição dos portugueses construir suas cidades sobre morros, onde pudessem ter a vantagem de observar toda a paisagem. Assim poderiam identificar com mais facilidade quem viria, e preparar-se para uma defesa.
O português percebeu com facilidade que morros eram um aliado no seu projeto de ocupação e colonização, e por isso procurou preservar alguns. Mas, quando a cidade cresceu isso no século XVII, os portugueses sentiram a necessidade de “descer o morro”, e assim conquistar a planície.
O problema era que esta “planície” era composta em grande parte por alagados, pântanos e charcos, que precisavam ser secos, aterrados para só então serem ocupados e povoados. Assim foi feito, pois ao longo de todo o século XVII, o Rio de Janeiro cresceu ao redor de morros em um espaço muito reduzido, não muito maior do que alguns campos de futebol.
Este espaço reduzido circunscrito a uma área demarcada pelos morros do Castelo, de Santo Antônio, de São Bento e da Conceição passou a ser a morada de ricos e pobres, livres e escravos, homens e mulheres.
Essa situação não mudou no século XVIII, quando o Rio de Janeiro transformou-se na capital da colônia. A população havia aumentado, mas esta característica básica, qual seja, a de manter diferentes segmentos sociais convivendo praticamente no mesmo espaço físico foi mantida.
O que acontece quando colocamos diferentes classes sociais com níveis de riqueza e formação muito diferentes entre si, convivendo praticamente no mesmo espaço? A história do Rio de Janeiro pode ser considerada um “experimento natural” neste sentido. Por séculos, a história da cidade registrou essa convivência nas crônicas dos jornalistas, nas memórias dos viajantes e na rica iconografia de séculos de tradição.
Ao contrário de outras cidades do mundo, onde “ricos” e “pobres” convivem na mesma cidade, mas em pontos geográficos muito afastados uns dos outros, o Rio de Janeiro foi muito diferente.
No Rio de Janeiro é plenamente possível uma favela do tamanho da Rocinha conviver ao lado com bairros de classe média, cujo nível de vida é muito mais parecido com o de populações da Europa e Estados Unidos. Essa convivência “naturalizou” por assim dizer, a experiência da desigualdade.

Isso criou um tipo de sociabilidade, um tipo de “trato social” muito peculiar, o “Carioca Way of Life”. Trata-se da arte de contornar os conflitos sociais com a constante negociação de “soluções provisórias”. De certa maneira, o “carioca bom de papo” é o produto direto dessa arte da conversação como mecanismo de negociação de conflitos.
O “papo”, “a ideia”, o “rolo” são expressões que remetem ao mesmo padrão de sociabilidade, negociar constantemente a convivência em um mesmo espaço social. Assim foi feito pelos escravos que por séculos forma a principal infraestrutura da cidade. Eram eles os “pés” e as mãos de obra”, prestando-se a toda sorte de serviços, de carregar sacas na estiva do porto da cidade a consertarem móveis e utensílios. Trabalhava-se na rua, porque em grande parte vivia-se na rua. Essa regra servia para ricos e pobres, livres e escravos.
Como fazer com que estas pessoas convivem, nos mesmos espaços sem que elas se matassem sistematicamente? Duas coisas, em primeiro lugar a presença ostensiva da força policial sempre a garantir uma Paz provisória, mas necessária, e a segunda, está na prática social da constante negociação de espaços sociais por meio da arte da conversação cultivada ao longo de séculos de convivência com profundos conflitos sociais.
Poderíamos transformar esta arte em um ativo, algo como um “patrimônio imaterial”, fazer com que esta arte fosse revertida na construção de uma cidade mais justa e menos desigual? Não sei, mas creio que é assunto a ser revisitado mais vezes.
*Paulo Roberto Araújo é professor de História e suburbano convicto