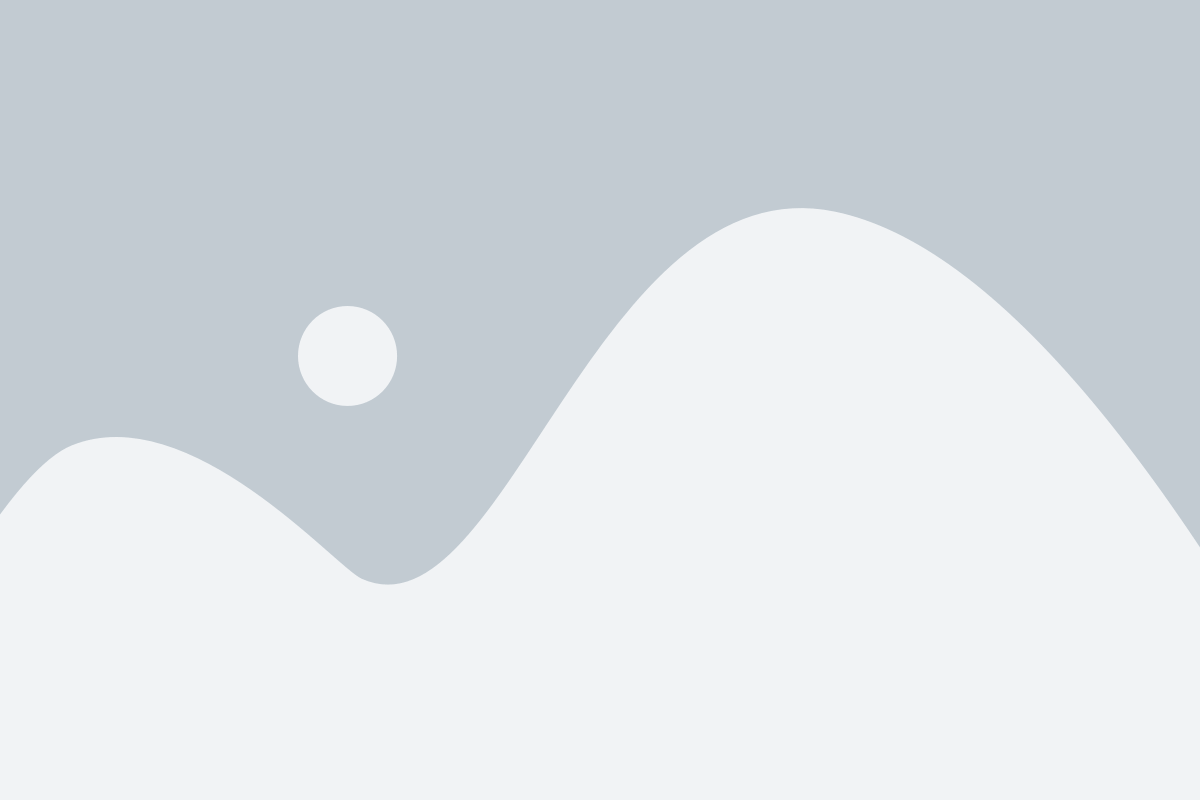Por Professor Paulo Roberto

Localizado na área entre o final da praia do Forte até a praia das Conchas, o sítio arqueológico da Reserva dos Sambaquis guarda ossadas e pertences dos índios que há séculos viveram a região, representando um valioso pedaço da história dos indígenas brasileiros.
Laguna, no litoral de Santa Catarina, até hoje é uma cidade pequena, não ultrapassando os seus 50 000 habitantes. No início do século XX era ainda menor. Estavam ainda longe os dias em que a costa catarinense disputaria pau a pau com a Bahia e o Rio de Janeiro o posto de destino preferido de turistas nacionais e estrangeiros. Não muito diferente de outros cantos do litoral do Brasil, Laguna era o lar do “Caiçara”, o camponês e pescador que tinha toda uma forma de vida, cujo cotidiano tinha lá suas regras criadas desde a noite dos tempos.
Como de costume, toda cidade pequena como Laguna tinha uma coisa muito boa: todos se conheciam, ou pelo menos era assim naquela época. As redes de solidariedade eram o capital mais importante para o povo de cidades assim. À falta da moeda sonante para comprar os mantimentos na venda, havia a “confiança”, materializada no ‘prego” da venda ( era um prego, literalmente) ou no “caderno”, onde o dono do comércio, que também era um bar anotava diligentemente o movimento dos clientes. As redes sociais também ajudavam as viúvas em apertos, os idosos e quem mais estivesse ligado ao grupo por parentesco, vizinhança ou aliança. Mas sobretudo tinha que ser ‘conhecido” para ser ajudado.
Estas cidades também tinham uma coisa não tão boa: todos se conheciam. Como uma contrapartida desta rede de proteção social, as informações- transmitidas no mais das vezes como “fofocas”- circulavam rapidamente, criando um grande controle social. Ficar “falado” em um contexto como este era algo realmente muito complicado, que muitas vezes era resolvido com a pura e simples saída da pessoa da comunidade.
Pois bem, foi em um ambiente como este que no início dos anos 30, chegou à pequena Laguna um grupo de “estranhos” liderados por um homem mais estranho ainda, no entender daqueles moradores. O grupo mal chegou à cidade e foi tomando informações ao dono do bar, sobre algum lugar para que pudessem hospedar-se por alguns dias. O ‘líder” perguntou também sobre uns montes de cascalho na beira da praia e como se fazia para chegar até eles. Desnecessário dizer que em questão de minutos, todos da cidade já sabiam da novidade. Afinal, quem eram “eles”?
“Eles” eram o grupo liderado Silvio Fróes de Abreu, que em 1931, chegou à Laguna em busca de sambaquis. Fróes de Abreu relata nesta viagem que naturalistas como ele, ao chegarem em pequenas cidades poderiam ser identificados de três maneiras: se fosse desprovido de recursos e trajando roupas modestas, os habitantes poderiam tomá-lo como um ladrão, vigarista ou coisa do gênero, disposto a roubar o povo da cidade. Caso o “forasteiro” chegasse à cidade com dinheiro no bolso e generosidade suficiente para distribuir gorjetas e presentes em dinheiro, seria tido como um possível benfeitor de todos aqueles que estivessem precisando de algum emprestado. E por último, o estranho poderia ser confundido com um agente do governo, um fiscal de olho nas atividades dos caiçaras, que tinham o hábito de usar os “casqueiros” para transformá-los em cal, sem pagar o imposto devido.
Essa é uma pequena história de um explorador do Rio de Janeiro que deixou a capital da República para investigar os sambaquis em Santa catarina. Seu relato de viagem chamou minha atenção para uma série de questões que espero interesse também ao leitor nos próximos textos que publicarei aqui nesta coluna.
A expedição de Fróes de Abreu me pareceu interessante em primeiro lugar, pela metáfora que o sambaqui representava nesta história. Para os moradores de Laguna, os “casqueiros”, como eles chamavam os sambaquis, eram uma maneira de terem acesso à matéria prima com a qual poderiam cobrir de cal as casas em que moravam. O povo daquela cidade achava estranho o interesse daquele grupo por aquele “monte de entulho”. E essa é uma outra representação interessante para o mesmo sambaqui. Para Fróes de Abreu e sua equipe, os sambaquis estavam muito longe de ser apenas um ‘monte de cascalho”, para o grupo, o sambaqui era uma janela para o passado brasileiro, um passado que poderia ser interpretado e mesmo reconstituído se aquele monte fosse preservado, medido e dissecado com instrumentos e perguntas científicas.
Essa história, que espero contar os seus desdobramentos nas próximas colunas, mostra como “ o passado” enquanto patrimônio pode ser construído. Este passado tem também um significado para ambos, para os caiçaras ‘ignorantes” e também para aqueles homens da capital. Para os caiçaras de Laguna, ali estavam os restos de um povo de quem herdaram as terras onde viviam sendo que muitos ali eram descendentes daqueles povos. Por conta dos inúmeros casamentos e nascimentos em gerações sem conta, misturaram-se ao branco e ao negro, mas ainda assim sabiam que os índios eram seus ancestrais. Para os cientistas, por sua vez, aquele passado continha a chave para o entendimento de como viviam os povos do Brasil, antes mesmo do Brasil ter sido batizado com tal nome, por Cabral e ter sua história contada pelos historiadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Para os dois no entanto, havia a certeza de que ali, naqueles montes na beira da praia, estava um patrimônio, e sobre ele falaremos na próxima semana.