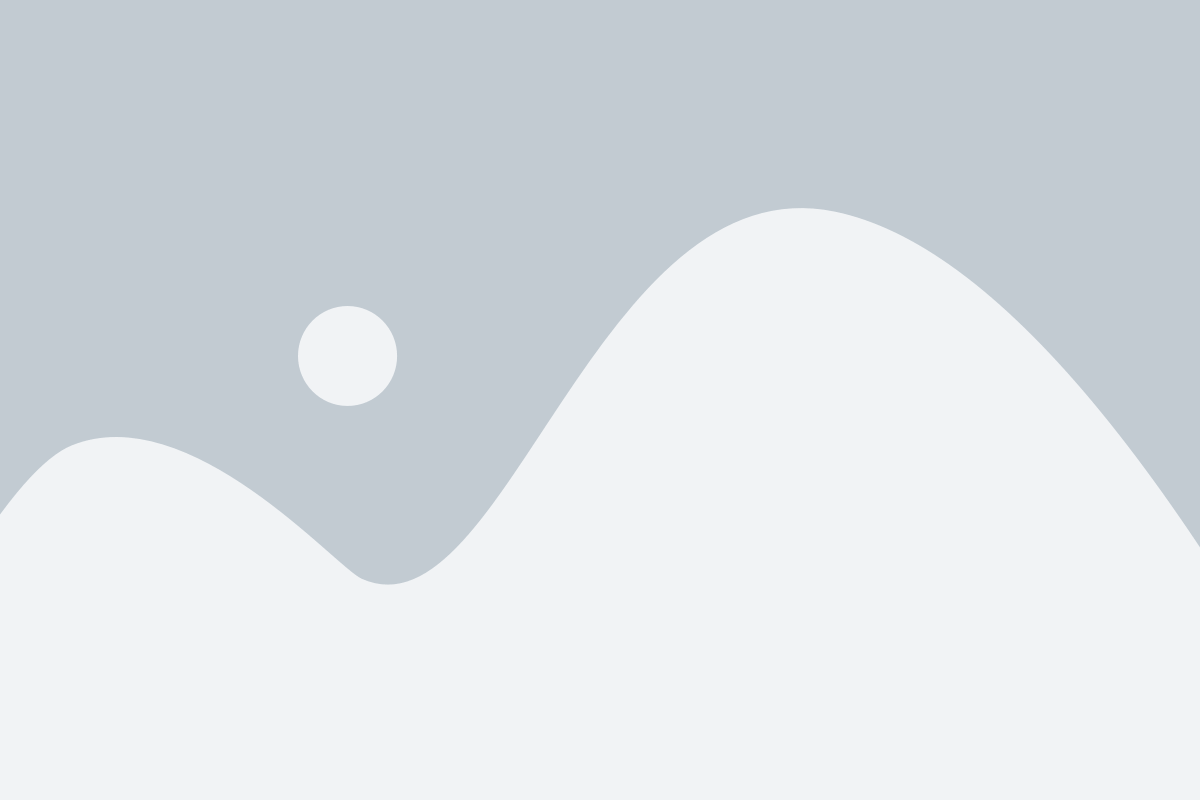Queria deixar a poeira assentar antes de comentar os eventos na cidade de Charlottesville, Estado de Virgínia, EUA, no segundo fim de semana do mês de agosto – antes, também, de comentar o debate acalorado, quando não abertamente violento, lá nos EUA sobre estátuas e monumentos. E a poeira assentou. Assentou. Levantou. E
A
Em pleno Século XXI, um presidente dos EUA não podia encontrar em si a força para denunciar neonazistas e supremacistas brancos de forma inequívoca? A democracia americana se precipita rumo ao precipício a uma velocidade ainda maior do que as cassandras de plantão vêm registrando? Na sua carreira rumo ao precipício, essa democracia vetusta e cada vez mais desprezada leva até a mera decência humana consigo de carona? Dia seguinte, domingo, a Casa Branca divulgou uma nota, não assinada, afirmando que o presidente condena “a violência, a intolerância e o ódio em todas as suas formas, e é claro que isso inclui supremacistas brancos, KKK, 
Havia bons motivos, ao longo da semana depois dessa série de correções de trajetória, para pensar que a administração Trump tinha chegado a um ponto de não retorno e que, dentro de pouco tempo, talvez dentro de um prazo contado em dias ou até em horas, ele deveria demitir-se e liberar a atmosfera da sua crescente pestilência. No The New York Times, dois articulistas o compararam com o imperador romano Calígula. Primeiro, Paul Krugman, Nobel em economia, disse, sob o título “Trump faz com que Calígula parece bem”, que Calígula pelo menos não fomentava violência étnica entre os seus sujeitos; comentou também que, apesar dos disparates de Calígula, o governo de Roma continuava a funcionar de uma forma mais ou menos normal. Nicholas Kristof, sob o título “Havia uma vez uma grande nação com um líder instável”, contou a história de Calígula com detalhes obviamente destinados a lembrar e ecoar o presente. “Ele” – Calígula – “era charmoso, impetuoso, e enérgico, dormindo nada mais do que três horas por noite, e manifestou um toque comum nos seus contatos constantes com o público. Seus primeiros meses como imperador transbordavam com esperança.” Vocês sabem, meus 17 leitores e meio, que Calígula foi assassinado por sua própria guarda pretoriana? Eu, não. Ou tinha esquecido. Podem tranqüilizar-se. Os dois articulistas do The Times asseguraram que se opõem, absolutamente, ao assassinato. Mas a mera menção de assassinato no comportadíssimo The Times, não importa quão forte a compulsória rejeição, é um sinal inconfundível da gravidade da situação.
Enquanto as pessoas que sempre sentiam asco pelo presidente cripto-nazista expressavam sua consternação com a sequência maluca de voltas e reviravoltas, até um grande número dos seus aliados mais chegados tentou distanciar-se de uma forma ou outra, e era esse distanciamento da parte dos aliados que levava a pensar que alguém deveria ser escolhido para passar-lhe o recado do consenso dos próceres do seu próprio partido que, para o frágil tecido social não rasgar ainda mais, já havia passado a hora para ele se retirar da cena. Mas quem podia? A filha dele, Ivanka? A filha dele, Ivanka, com o respaldo do seu marido, Jared? Trump respeita o casal. São família. A eles pelo menos escutaria, embora provavelmente não, se os mensageiros nada mais fossem do que um comitê de meros generais, governadores e senadores.
Mas o rapaz, como o samba, agoniza, mas não morre. E, aparentemente, nem sequer agoniza muito. Ou pelo menos não agoniza muito com os seus próprios delitos e transgressões; agoniza só quando se sente mal compreendido e maltratado. Como regra geral, causa com que outras pessoas agonizem. E está ficando cada vez mais claro que o mostrengo tem um sem número de vidas – talvez tenha corpo fechado, sabe-se lá. Ele foi dado como morto nos dias após Charlottesville, mas ele tinha sido declarado morto várias vezes antes de Charlottesville também – durante a campanha eleitoral, por exemplo, quando o jornal The Washington Post descobriu e divulgou uma fita de áudio em que ele se vangloriava de como, quando se é, como ele, estrela no mundo de entretenimento, se goza de uma liberdade total com as mulheres. “Eu nem sequer espero”, disse. “Eu simplesmente começo a beijá-las. . . . Você pode fazer qualquer coisa.” Recomendou: “Pegue-as pela xoxota.”
Morto por certo. Mas ele é como o vilão que, no último episódio de um filme hollywoodiano, é preso com grilhões e cadeias numa jangada frágil em alto mar, os tubarões rodeiam, a jangada vira, o vilão afunda, a platéia solta um suspiro de alívio. E na sequência, tão idiota quanto o original, sabemos que, por astúcias e artimanhas, ele escapou para mais uma vez infernizar a vida das pessoas de bem. O nosso próprio Michel Temer, aprovado por aproximadamente 5% da população brasileira, desaprovado por aproximadamente 70%, sobrevive tenuamente. Por que não Trump que, mesmo após os cafunés que deu nos piores elementos saídos dos grotões mais escuros, ainda é apoiado entusiasticamente por aproximadamente 35% do público norte-americano e mais ou menos 80% dos Republicanos dizem que confiam em Trump mais do que na imprensa?
********
E, enquanto Trump não some, também não some a questão espinhosa de todas essas centenas de monumentos, pelos estados do sul afora, que homenageiam os heróis da guerra civil de 1861-1865 a favor dos direitos dos estados, ou seja, para proteger um estilo de vida baseada na escravidão. A juventude progressiva, com todo o zelo ardente da sua retidão, tanto no sul quanto no norte, quer derrubá-los sem mais demoras, e um grande número de municípios já tomaram providências para dar satisfação. Os ventos (metaforicamente falando) obrigam. Os trogloditas resistem. E Trump ampara os trogloditas com as suas repetidas referências às “nossas belas estátuas e monumentos”. Diz que é “triste ver a história e a cultura de nosso grande país sendo despedaçadas”. Diz que sentiremos a falta da “beleza sendo retirada de nossas cidades e dos nossos parques”. Diz que a história não pode ser alterada.
A palavra “beleza” me faz rir um pouco. Eu nasci nos EUA em 1943 e convivi por algumas décadas com as versões nortenhas desses supostamente belos monumentos. Enquanto o sul do país decorava as suas praças com estátuas equestres dos generais Lee e Stonewall Jackson ou, às vezes, do soldado comum da Secessão, a 
Belas, essas estátuas e monumentos no norte, no sul? Não. Já que esse debate irrompeu – com os seus toques de violência – estamos sabendo que centenas desses monumentos foram produzidas em massa, de forma barata, basicamente sem autor, e vendidas no sul como Lee e no norte como Sherman. Engraçado, não? Foram totalmente intercambiáveis. Mas, belas ou não tantas, numa cidadezinha onde as únicas outras expressões artísticas que se encontravam eram as imagens de Nápoles na parede de um restaurante italiano e de uma montanha coberta de neve no calendário na parede de um posto de gasolina, essas estátuas e esses monumentos tinham determinada serventia. Denotaram os pontos importantes da cidade, sobre tudo nas cidadezinhas sulistas onde sempre havia uma estátua bélica nostálgica em frente do fórum. Fizeram com que as pessoas, e sobre tudo a criançada, pensassem em alguma coisa mais elevada e nobre do que o ato de servir panquecas na espelunca no outro lado da praça ou aparar a relva do Sr. Smith. Sim, eu sei, eu sei. Os monumentos contribuíram a manter vivo esse horroroso espírito marcial. E daí, Vietnã. Há sempre, ou quase sempre, um lado bom e um lado angustiante.



Não quero comentar nem os nossos três pescadores nem o nosso Juscelino nem a nossa querida e às vezes abusada Brigitte Bardot aqui em Búzios, mas, neste momento em que todo símbolo tem que ser examinado por todos os ângulos e os aspetos positivos e negativos do original pesados na balança, é bom lembrar que, no lado positivo, a Brigitte deu uma empurrada no avanço da nossa cidade à sua grande glória atual. A Brigitte é ativista na área dos direitos dos animais, e todos os amigos dos animais aqui em nossa cidade, cheia de amigos de animais, deveriam ser-lhe gratos pela força que ela faz em prol dos cavalos, dos gatos, das focas e tanto mais. Mas não podemos esquecer que a Brigitte também foi condenada quatro vezes por “incitar ódio racial”. Queixa-se constantemente da “islamização da França” e também da extravagância e exibicionismo dos gays. E aí? O que vamos fazer? Tirar a Brigitte da Orla Bardot e renomear a rua à memória de Yasser Arafat? (A propósito, não me lembro de uma controvérsia, alguns anos atrás, sobre o nome do bairro e da praia Zé Gonçalves, que era traficante de escravos? Tenho a impressão que o nome dele ainda não foi suprimido com sucesso.)
Disse que duas coisas aconteceram nos EUA. Primeiro, um novo tipo de escultura pública começou a brotar e não somente nos grandes centros urbanos, mas também em lugares provincianos, na medida em que os lugares provincianos queriam nadar nas correntezas da modernidade e relevância. A segunda coisa que aconteceu, muito mais nos EUA do que no Brasil e em outros países, é que as áreas centrais das velhas cidadezinhas começavam a morrer. As áreas centrais da esmagadora maioria das cidades grandes também. Depois da Segunda Guerra Mundial, os EUA se motorizaram com uma velocidade ainda mais acelerada do que antes. Até a década de 50, quase todo mundo tinha carro. Muitas famílias tinham dois. As classes abastadas se deslocaram para subúrbios arborizados e seguros, e o comércio seguiu na forma de grandes shoppings. Os shoppings não foram construídos em volta de monumentos heróicos, os shoppings estavam lá só para incentivar compras, e os moradores dos novos subúrbios raramente voltaram aos velhos centros. Os shoppings tinham grandes estacionamentos. Nos velhos centros, não se encontrava facilmente uma vaga. Os velhos centros estavam sujos. As pessoas não motorizadas que passeavam lá – bebuns, mendigos, pessoas sem abrigo em geral – assustavam as crianças.
Além disso, as nossas histórias são coisas complexas. Têm alguns componentes de que a gente pode se orgulhar, mas muitos outros componentes totalmente escandalosos. Queremos ser puros. Não dá. E, de qualquer forma, melhor resolver os problemas atuais do que lutar com o passado. Eu, pessoalmente, deixaria esses monumentos. São pitorescos agora – e irrelevantes. Irrelevantes – mas meio pitorescos. Mas mudaria de idéia num segundo, se alguém me dissesse que estava sendo perverso e idiota. Mas Zé Gonçalves? Realmente. Vamos pelo menos acabar com ele. Não há nem monumento nem estátua. É só um nome no mapa e em algumas placas e não custaria muito esquecer o velho Zé. E, além disso, não há oposição.